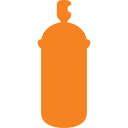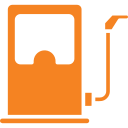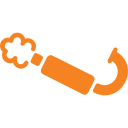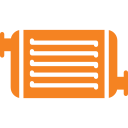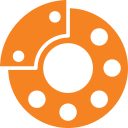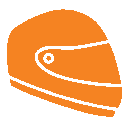Nossa coleção particular está disponível para acesso nessa página
A primeira geração da Biz 100 foi um grande marco na história da Honda no mercado brasileiro. A Honda C100 Biz chegou para substituir a velha Honda C100 Dream.
A então inédita Honda C100 Biz estreou com a mesma proposta de sua antecessora: ser uma motocicleta prática para o dia a dia e ideal para aqueles que estão iniciando no mundo do motociclismo.
Todavia, ela ganhou um visual bem mais moderno e agradável, com linhas mais arredondadas, além de uma gama de recursos que até então não estavam disponíveis no modelo antigo.
O grande destaque da Biz 100 era, e ainda é, a facilidade de pilotagem. Na época do seu lançamento, a motoneta foi tratada pelos jornalistas como uma moto ideal para iniciantes.
Tudo isso por causa do câmbio de quatro velocidades semiautomático, que dispensa o acionamento da embreagem para efetuar as trocas de marcha – aliás, não há nem o manete de embreagem no punho esquerdo.
Para completar o conjunto, o modelo de entrada da Honda conta com uma posição de pilotagem ideal, com banco largo e guidão mais elevado, permitindo uma posição do condutor como se ele estivesse sentado e não “montado”.
Trata-se de uma das principais características de uma CUB (sigla referente à “Cheap Urban Bike”, ou “moto urbana barata”).
Um recurso de grande destaque presente não só no primeiro modelo, como também nas outras gerações da Biz, é o espaçoso compartimento sob o banco.
Sabe aquela situação incômoda de ter que carregar sacolas, mais o capacete, por todos os lados? No caso da motoneta da Honda, você consegue acomodar o capacete e pequenos objetos no compartimento embaixo do banco, que consegue levar até 10 kg de carga.
O motor é bastante compacto e econômico, capaz de entregar uma dose de potência e de torque ideal para os grandes centros.
Em seu lançamento, a Honda Biz 100 foi oferecida na versão de entrada, com partida a pedal, e no topo de linha ES, que se diferenciava pela partida elétrica e também a partida a pedal.
Logo em seguida, a marca passou a ofertar a Biz 100+, que tinha como base a Biz ES, mas com rodas de liga-leve de três raios, escudo em tonalidade exclusiva e banco com revestimento diferenciado.
A primeira geração da Honda Biz 100 foi descontinuada em 2005, para dar lugar à segunda geração da CUB.

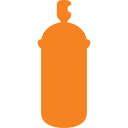

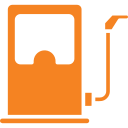
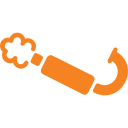
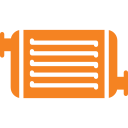
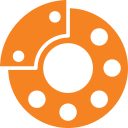

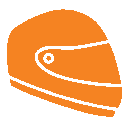
Nos últimos anos da década de 80, a Honda tinha no mercado brasileiro três opções de motocicletas de uso misto: a pequena XL 125 S, de 14 cv; a média XLX 250 R, de 25 cv; e a topo-de-linha XLX 350 R, de 30 cv. As duas primeiras, no entanto, já apresentavam grande defasagem de estilo diante das concorrentes, como a Yamaha DT 180 Z e as Agrales SXT e Elefant; a “Xiselinha” tinha ainda o crônico problema do motor muito fraco, mal chegando a 100 km/h.
Enquanto isso, a matriz da empresa expandia com rapidez a nova família NX, composta por modelos de 125, 250 (chamada AX-1 em alguns mercados) e 650 cm3 (a Dominator). Eram motos modernas e muito atraentes, com um desenho inspirado na XL 600 V Transalp — que reuniu pela primeira vez, em 1987, a ampla carenagem de uma estradeira ao conjunto de uma uso-misto –, porém mais compacto, ágil e dinâmico.
A NX 125, mais tarde renomeada Transcity, seguia novas tendências de estilo ao ser lançada no Japão. A Honda a fabricou no Brasil para exportação, com freio dianteiro a tambor
O desenvolvimento de um motor de 151,8 cm3 para a CBX 150 Aero, lançada em maio de 1988, foi a peça que faltava para a Honda encontrar sua solução: nacionalizar a NX 125, adotando nela o propulsor mais potente. De quebra, a montagem de um motor de 125 cm3 permitiria exportar a nova moto.
“Não seria mais coerente mantê-la aqui como 125?”, você pode se perguntar. Parece, mas não seria: a essa época os fabricantes realizavam manobras para escapar do controle de preços das motos de até 150 cm3 pelo CIP (Conselho Interministerial de Preços), órgão do governo federal. Para ficar de fora do CIP, bastava que a CBX Aero e a NX tivessem mais de 150 cm3. Assim, foi escolhida a cilindrada exata de 151,8 cm3.
Em janeiro de 1989 era apresentada no Brasil a NX 150, substituindo a XL 125 S, descontinuada no final do ano anterior. Suas linhas modernas e agradáveis chamavam a atenção, tornando-se logo um argumento de vendas. Pela primeira vez em uma uso-misto nacional a carenagem estava ligada ao tanque, desvinculando-a, ao painel e ao farol do movimento do guidão (a Yamaha introduzia o conceito ao mesmo tempo na TDR, mas suas características de rodagem eram de uma moto estradeira). Apesar do tanque pequeno, de 8,5 litros, a impressão era de uma moto encorpada, robusta.
O impacto poderia ter sido maior se nossa 150 mantivesse o pára-lama rente à roda dianteira — como na 125, tanto a japonesa quanto a fabricada aqui para exportação –, em vez de adotar um modelo alto e distante do pneu. Aparentemente, a Honda imaginou que os brasileiros não apreciariam a nova solução, temor que não demoraria a cair por terra, com seu emprego na Ténéré 600 da Yamaha e na própria NX 350 Sahara da Honda, a partir de 1990.
Vários componentes da NX eram iguais ou similares aos da XLX 350 R, como o painel de instrumentos retangulares, as luzes de direção, o pára-lama e a lanterna traseira. O escapamento trazia um acabamento de alumínio, de bom gosto, e as laterais não pareciam as de uma uso-misto, pela ausência do local habitualmente usado para fixar número em competições de enduro.
Apesar do porte imponente, a moto não era alta. Pelo contrário: com 825 mm de altura do assento, era a uso-misto mais baixa do mercado, o que a tornava acessível e atraente às mulheres e aos homens de menor estatura. E havia outro elemento vital para conquistar esse público: a partida elétrica, conveniência há muito reivindicada na XLX de maior cilindrada, mas que chegou antes ao pequeno motor da 150.
Não havia pedal de partida, mas sim o mecanismo interno de acionamento, bastando adaptar o pedal ao eixo se desejado — recurso, porém, que desapareceria já em 1990.
O propulsor era o mesmo da CBX Aero, com comando único no cabeçote e duas válvulas por cilindro, evolução daquela lançado na década de 70 na Turuna 125. Recalibrado para oferecer mais torque em baixa rotação, como já ocorria com a XL 125 S em relação a suas “doadoras” 125 ML e Turuna, os 15,9 cv de potência caíam para 15 cv, enquanto o torque máximo passava de 1,27 m.kgf a 8.500 rpm para 1,28 m.kgf a 7.500 rpm.
Com velocidade máxima de 110 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 15 segundos, a NX era mais rápida que a “Xiselinha”, mas ainda modesta para o que prometia seu estilo moderno. A relação final bem reduzida tornava-a razoavelmente ágil, mas deixava a quinta marcha curta demais para uso em estrada, fazendo o motor invadir a faixa vermelha do conta-giros com facilidade. Muitos proprietários experimentaram com sucesso alongar a relação, utilizando um pinhão com mais um ou dois dentes. Em contrapartida era bastante econômica, superando 25 km/l na cidade.
A 150 estava bem servida na parte ciclística, incluindo um freio dianteiro a disco, que a XLX 250 R nunca teve, e suspensão traseira Pro-Link, dois grandes avanços sobre a XL 125 S. A maciez das suspensões agradava aos usuários urbanos, mas evidenciava sua inaptidão para o uso fora-de-estrada mais severo

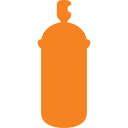

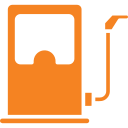
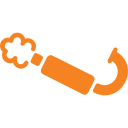
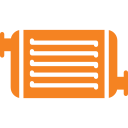
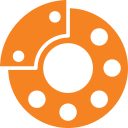

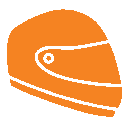
A história da CG confunde-se com a própria história da Honda no Brasil. A marca da asa dourada, presente em nossas terras desde 1968, inaugurava em 26 de outubro de 1971 a Honda Motor do Brasil Ltda., empresa responsável pela importação e distribuição das motos japonesas. Três anos depois era adquirido um terreno de 1,7 milhão de metros quadrados em Sumaré, SP -- o mesmo que, em 1997, passaria a produzir o Civic -- para a fabricação de motocicletas.
Com o fechamento das importações, em 1976, começava a produção da moto nacional. Não no interior paulista, mas na Zona Franca de Manaus, AM, onde a legislação permitia importar componentes sem pagamento de impostos. Tendo o "rei" Pelé como garoto-propaganda, nascia em novembro daquele ano a CG 125, uma moto urbana de mecânica simples. Não era a primeira moto nacional, mas estava perto disso: a Yamaha fabricava há dois anos apenas a RD 50, a "cinquentinha", quase um ciclomotor.

O motor de um cilindro a quatro tempos, comando de válvulas no bloco e refrigeração a ar desenvolvia 11 cv de potência a 9.000 rpm e levava a CG a pouco mais de 100 km/h. O câmbio de quatro marchas tinha os engates todos "para baixo", os freios eram a tambor e as suspensões básicas.
De início não havia concorrentes: a Yamaha passaria à categoria de 125 cc apenas em 1978, com o modelo RX. Talvez pela vantagem de sair à frente, talvez pela robustez e economia do motor quatro-tempos ou por uma imagem mais sólida no mercado, o fato é que a CG 125 assumiu a liderança nas vendas para nunca mais a perder.
Em 1977 a marca fundada em 1947 por Soichiro Honda já respondia por 79% do mercado de duas rodas. Nesse ano a CG começava a dar frutos: primeiro a versão de luxo 125 ML, depois a esportiva Turuna. Em 1979 era adotada a suspensão dianteira tipo Ceriani, em que as molas são internas aos amortecedores, em vez de externas com cobertura de metal.
Nessa época uma concessionária, a Moto Jumbo, passava a transformá-la em um modelo fora-de-estrada, a FS 125, para competir com a Yamaha TT. Ganhava suspensão mais elevada, pneus de uso misto e reforços nos componentes mais sujeitos a impactos. Essas adaptações (embora a TT saísse assim de fábrica) abriram caminho e despertaram a demanda pelas uso-misto nacionais, a XL 250 R e a DT 180, lançadas pouco depois.
A primeira a álcool
Com o segundo choque do petróleo, em 1979, substituir a gasolina por um combustível nacional e renovável -- o álcool -- passou a ser prioridade brasileira. Isso incluía as motocicletas: em fevereiro de 1981 a Honda produzia a primeira moto do mundo com motor a álcool.
O motor tinha taxa de compressão mais alta, passando de 9:1 para 10:1, e um sistema de alimentação (com bomba manual) de gasolina na partida a frio, com reservatório sob o banco. Potência e torque permaneciam os mesmos da versão a gasolina, assim como o preço da moto, mas o consumo era cerca de 18% maior, o que o menor custo do litro de combustível compensava facilmente. E o câmbio tinha cinco marchas, o que ocorreria com a versão a gasolina só em 1986.
Não se sabe bem por quê, mas essa tentativa (assim como a da Yamaha com a RX 125) não teve êxito, talvez pelas respostas lentas e imprecisas do motor na fase de aquecimento. Como se sabe, agilidade ao acelerador é crucial em uma moto.
Na linha 1983 a CG recebia sua primeira reformulação de estilo. A não ser pelo farol, as formas retilíneas vinham para ficar, abrangendo tanque, laterais, lanterna traseira, luzes de direção e até o módulo de instrumentos -- que perdia o conta-giros, porém, uma falta até hoje lamentada.
Em 1985 a Yamaha renovava sua oferta na categoria, lançando a RD 125, mas a hegemonia da CG não se abalava. O câmbio de cinco marchas foi adotado em 1986, facilitando o aproveitamento da potência do motor e também os engates: em vez das quatro marchas engatadas "para baixo", apenas a primeira ficava nessa posição, sendo as demais selecionadas "para cima", como na quase totalidade das motocicletas.
Do lado dessa versão estava a CG Cargo, moto de trabalho lançada no ano anterior. A proposta era vir de fábrica já adaptada ao uso profissional, com banco de um só lugar, grande bagageiro, quadro e roda traseira reforçados, suspensão posterior com regulagem e balança 80 mm mais longa, que aumentava a distância entre eixos de 1,27 para 1,35 metro. No entanto, boa parte do público-alvo preferiria sempre a CG básica, por uma razão curiosa: evitar, no momento da revenda, a depreciação inerente a um veículo de trabalho.
Embora na 125 ML, na Turuna e em suas sucessoras (CBX 150 Aero e CBX 200 Strada) a Honda tenha optado pelo motor com comando de válvulas no cabeçote (OHC), que traz melhor rendimento em alta rotação, o da CG sempre permaneceu fiel à durabilidade do comando no bloco (OHV). Mas, após 15 anos de sucesso, a Honda decidiu que deveria aprimorá-lo.
O modelo 1992 da Today trazia um motor revisto, com pistão de perfil mais baixo, biela mais longa e válvulas maiores, entre outras alterações. A mais esperada novidade era a ignição eletrônica por descarga capacitiva, CDI, em substituição aos velhos platinado e condensador, que então se extinguiam das motos nacionais. Com isso, a manutenção estava mais simples e não havia mais perda de rendimento por causa do desgaste desses componentes.
Em 1992 a Today ganhava um motor mais potente e silencioso, mantendo o comando de válvulas no bloco. O painel, porém, permanecia sem conta-giros, que até hoje não foi reposto
Em função das mudanças, a potência subia de 11 para 12,5 cv e o torque de 0,94 para 1,0 m.kgf, aos mesmos regimes, enquanto o nível de ruído e vibração se reduzia. A nova CG, que também ganhava pneu dianteiro mais macio, manoplas de borracha e pedaleiras perfuradas, para maior conforto de rodagem, passava a atingir 115 km/h de máxima e a acelerar de 0 a 100 em 17 s, desempenho adequado a sua proposta.
De alma renovada, faltava uma plástica para deixar o corpo em nova forma, depois de uma década sem alterações profundas. Pois em 1994 a CG Titan, sucessora da Today, trazia de volta as linhas arredondadas no tanque (agora maior, 13 litros), laterais e rabeta, mas não ainda no farol. Vista em detalhe, exibia painel de fundo branco, alças laterais para apoio do passageiro e embreagem mais leve. Um escapamento mais silencioso vinha no ano seguinte.
A CG estava mais jovem e atraente, aos quase 20 anos, mas não havia atendido a antigas reivindicações de seus fiéis compradores, como freio dianteiro a disco e conta-giros. A primeira delas era aceita somente em 2000, quando a Titan vinha em duas versões: KS (kick starter, partida a pedal) e ES (electric starter), esta dotada de partida elétrica, pedaleira do passageiro fixada ao chassi (evitando que suas pernas tenham de acompanhar as oscilações da roda) e o esperado freio a disco.
Junto dessas opções estava o novo estilo, bem mais elegante. O farol, redondo novamente, trazia moderno refletor de superfície complexa e lente de policarbonato; a lanterna traseira era a mesma da NX4 Falcon. O guidão estava 29,5 mm mais alto e havia no painel um indicador de nível de combustível, mas -- incompreensível -- ainda não o conta-giros. A bateria selada dispensava verificação de nível do eletrólito.
Na Titan 2000, nova alteração estética a deixava realmente elegante. Havia opção da versão ES, com partida elétrica e o tão esperado freio dianteiro a disco
Havia ainda um aprimoramento muito bem-vindo quando o pneu traseiro furava: o sistema tuff-up, desenvolvido pela Honda, um líquido especial selado à câmara de ar que, no caso de uma perfuração, deslocava-se rapidamente ao ponto danificado, retardando a perda de pressão. No ano seguinte a CG atingia o marco de dois milhões de unidades produzidas, inédito para uma moto nacional e raro mesmo entre os automóveis.

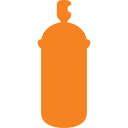

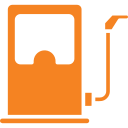
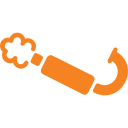
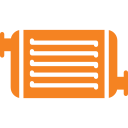
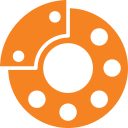

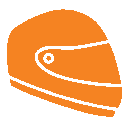
Lançada em 2001, e imediatamente tornou-se um fenômeno de popularidade. Dá para dizer até que a Twister trouxe consigo uma revolução, introduzindo o segmento das street de 250 cm³ no Brasil e obrigando a Yamaha a se mexer para dar ao brasileiro uma alternativa – a Fazer 250, que hoje disputa tête-à-tête a preferência do público que busca algo mais potente que as motos de entrada, sem elevar demais os gastos. E o mais bacana é que a Twister é um projeto brasileiro que ganhou o mundo.
CBX - Uma sigla icônica
A primeira Twister, de 2001, atendia pelo nome completo de Honda CBX 250 Twister. Os admiradores da Honda conhecem o peso da sigla: CBX era como se chamava a primeira moto de seis cilindros da Honda – a lendária CBX 1000, que dispunha de 105 cv em seu motor de 1.047 cm³ com comando duplo no cabeçote, cujo escapamento 6×2 garantia um ronco belíssimo. O motor era uma peça de incomum sofisticação em 1978, e contrastava com o projeto relativamente simples do restante da motocicleta. O que, em termos de manutenção, era até uma vantagem.
O significado da sigla CBX nunca foi totalmente esclarecido – dizem que o “CB” significa “City Bike”, e o X vem de “eXperimental”. De fato, a CBX original era uma moto bastante experimental (principalmente por causa do motor), e com o passar do tempo as CBX se tornaram sinônimos de motos arrojadas, versáteis e com alta tecnologia.
No Brasil, na década de 1980, tivemos algumas motos diferentes com a sigla CBX. Em 1986 foi lançada a CBX 750, mais conhecida como Sete Galo, com um motor quatro-cilindros de 747 cm³ e 82 cv – outra que roncava maravilhosamente.
Em 1988, foi a vez de sua “versão em miniatura”, a CBX 150 Aero – uma pequena arrojada, com pegada esportiva, motor de 151,8 cm³ e 15,9 cv (com partida elétrica!). Sucessora da Honda ML, a CBX Aero era uma moto interessante de se ver, mas o motor deixava muitos donos sedentos por mais força. E lhe faltava a carenagem, que na época era considerada item indispensável em qualquer esportiva que se prezasse.
A CBX Aero foi descontinuada em 1993, dando lugar à CBX 200 Strada – que usava a mesma base, porém adotava um estilo mais simples para a nova década: um tanque mais volumoso, linhas mais arredondadas e farol redondo, inaugurando a tendência das motos com pegada mais minimalista, quase retrô. Mas a maior mudança era o motor. A base ainda era o projeto original, mas com curso e diâmetro ampliados para chegar a 196,3 cm³.
A Strada tinha seus 19 cv e 1,7 kgfm – e era uma moto bem superior em desempenho. Tinha boas retomadas na cidade, fôlego razoável na estrada, e usava rodas de liga leve com pneus sem câmara. Não foi à toa que a Strada durou quase dez anos: só saiu de linha em 2003, dois anos após a chegada da Twister.
A equação (quase) perfeita
A Honda percebeu que a ideia da Strada tinha potencial. Ela precisava, porém, de duas coisas: um design que a destacasse mais da gama de entrada da Honda, e um motor que justificasse esse design com desempenho bem superior.
Foi por isso que a Honda colocou um esforço extra na Twister e deu a ela exatamente isso.
Para começar, a Twister era uma moto totalmente nova, feita do zero. Saía de cena o quadro de aço estampado, que tinha suas raízes na CG de 1976, e entrava o quadro por berço duplo tubular, mais leve, esbelto e resistente – acomodava melhor o motor e permitia um avanço real em design e ciclística.
A Twister pegava o conceito estético da Strada e evoluía em tudo. O tanque era maior, com 16,5 litros de capacidade, e vinha decorado por duas carenagens plásticas bem caprichadas. A rabeta era robusta e aerodinâmica, com uma lanterna inclinada cujo desenho é reproduzido até hoje nas Honda com motor 160cc. O painel, pela primeira vez, trazia uma tela digital com diversas informações, e o banco era largo e confortável o bastante para longas viagens. A posição de pilotagem era mais inclinada para a frente, mas não chegava a ser desconfortável.
A suspensão estava um passo além da Strada, também: os dois amortecedores davam lugar ao sistema monochoque. Além de mais estável, o arranjo dava à Twister uma postura mais invocada e agressiva, apropriada a uma moto com inspiração esportiva. Rodas de liga leve e freio a disco na dianteira completavam o pacote.
O grande atrativo, porém, estava no motor: pela primeira ele não era uma versão aperfeiçoada do anterior, e sim um projeto totalmente novo, criado especialmente para a nova CBX.
O propulsor ainda era um monocilíndrico, mas agora vinha com radiador de óleo, duplo comando no cabeçote e quatro válvulas (duas de admissão e duas de escape). A alimentação ainda ficava por conta do carburador, um Keihin com borboleta de 30 mm.
Os números enchiam os olhos: eram 24 cv a 8.000 rpm e 2,48 kgfm de torque a 6000 rpm – um belo acréscimo ante os 19 cv a 8.500 rpm e 1,7 kgfm a 7.000 rpm da Strada. O preço era o aumento considerável no consumo: a Twister gostava de girar e rendia bem quando passava das 6.000 rpm, e com isso o rendimento médio caía de aceitáveis 23 km/L para apenas toleráveis 18 km/h. Já havia motos maiores que gastavam a mesma coisa, e andavam mais.
Onde o motor brilhava, porém, era em sua suavidade. As dimensões eram consideradas perfeitas: 63,5 mm de diâmetro e 62,2 mm de curso, um motor levemente sobrequadrado que funcionava de forma suave e vibrava pouco em rotações médias a altas. Melhor ainda: o câmbio, pela primeira vez em uma Honda pequena, tinha seis marchas – um tanto incômodo na cidade por causa das relações próximas, mas uma bela ajuda em estradas. Que o diga quem já viajou de Twister.
Do Brasil para o mundo
A despeito das poucas falhas, a Twister conseguiu enfim convencer o público de que valia a pena fazer o upgrade para uma moto maior. E seu sucesso foi imediato: mais de dez mil unidades foram vendidas no primeiro ano, e as vendas só aumentaram com o tempo – em 2006, quase 63.000 unidades da Twister foram emplacadas no Brasil.
Em pouco tempo surgiram diversos acessórios no mercado de customização – eliminadores de rabeta, capas de corrente com para-lama traseiro embutido e até carenagens completas, que davam uma aparência completamente diferente à CBX 250.
E não foi apenas no Brasil: em 2004, a Twister foi lançada na Europa como CBF 250, trazendo exatamente as mesmas especificações que a CBX 250 brasileira, porém com gráficos mais discretos no tanque e nas laterais. E a versão europeia viveu mais tempo que a brasileira: só saiu de linha em 2012, vendendo cerca de 3.000 exemplares por ano, enquanto a Twister deixou o mercado pela primeira vez no fim de 2008.